ESTÁTUA DA LIBERDADE
O apagão e o bandido estacionário
Na passada segunda-feira, Portugal, o país dos 133 mil milhões de euros em receitas estatais anuais – confiscados sob ameaça a uma população que trabalha de sol a sol –, converteu-se num autêntico Burkina Faso durante algumas horas. Sem energia, sem serviços, sem Estado funcional.
Um buraco negro institucional a que chamam “serviço público”. Quem confiava na omnipotência estatal percebeu, mesmo que só por momentos, que o rei vai nu, muito nu. O Leviatã que tudo prometia é um colosso com pés de barro.
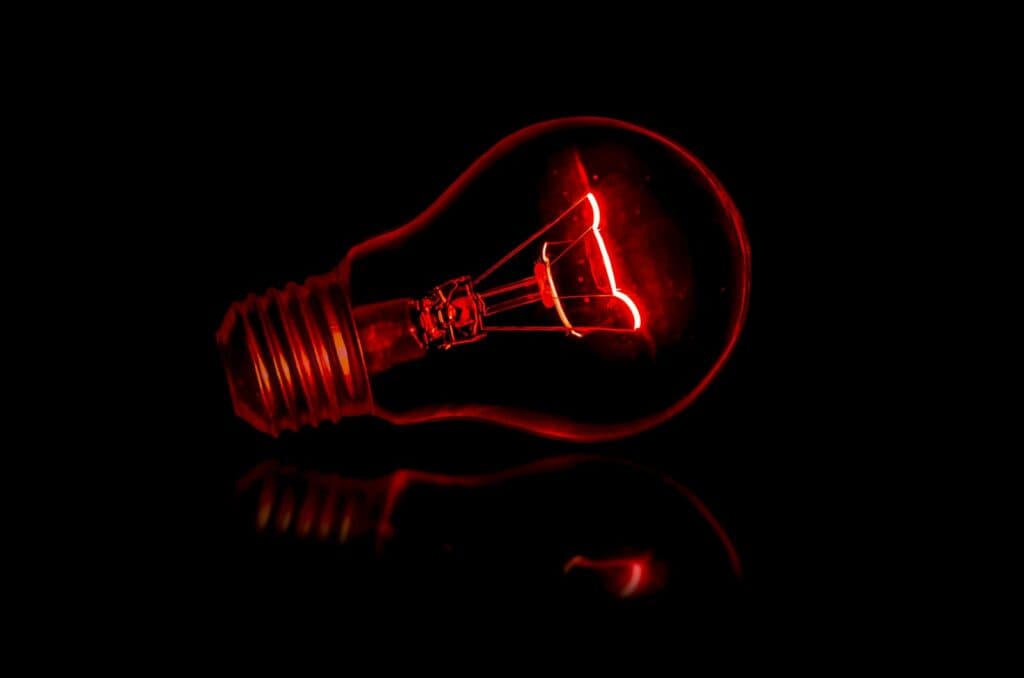
É nestes momentos que vale a pena lembrar a analogia do bandido estacionário, conceito desenvolvido pelo economistra norte-americano Mancur Olson no século passado. Porque se há imagem que melhor sintetiza o Estado, é essa: o ladrão que deixou de fugir e decidiu ficar. ↓
O jornalismo independente (só) depende dos leitores.
Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.
Imaginemos um vale fértil, habitado por camponeses laboriosos. Um Éden terrestre, onde a riqueza brota do suor e da terra. Os camponeses vivem em paz, trocam entre si, cultivam os campos, constroem famílias e vida. Um dia, das montanhas, descem uns salteadores: armados, sedentos de ouro e mulheres, disparam, assaltam, saqueiam. Mas, como qualquer ladrão, fogem. Saquear e fugir, essa é a essência do bandido tradicional.
Mas eis que surge um novo tipo de bandido. Um que, ao olhar o vale fértil, pensa diferente: “E se ficasse? Se, em vez de fugir, ficasse aqui para sempre a saqueá-los? Mais eficiente, mais contínuo, menos arriscado.” Assim fez: instalou-se no vale, autoproclamou-se rei, distribuiu títulos nobiliárquicos pelos seus lacaios e instituiu a primeira taxa: 10% de tudo o que os camponeses produzissem. Nascia assim o Estado. O roubo organizado, institucionalizado, perpétuo. O bandido estacionário deixara de ser bandido: tornara-se governante.

Mas este novo tipo de ladrão tinha um problema: a aritmética. Os camponeses eram muitos, os bandidos eram poucos. Como evitar a revolta? Como manter o saque sem resistência? A resposta foi tão velha quanto genial: a dissimulação. A força bruta não bastava. Era preciso convencer as vítimas de que não estavam a ser roubadas. Era necessário construir um véu de legitimidade, de inevitabilidade, de justiça. Nascia assim a propaganda.
Ao longo da história, o bandido estacionário serviu-se de tudo. Da religião (“o rei governa por vontade divina”), da inflação (“não é roubo, é política monetária”), da manipulação simbólica (as colunas de Trajano, os hinos patrióticos, os retratos oficiais, as estátuas dos governantes), da pedagogia da servidão (as escolas públicas, os manuais de “cidadania”). A arte do parasita é sofisticada: quanto mais complexa for a estrutura, menos perceptível será o roubo. É por isso que as vítimas, hoje, nem sabem o que lhes está a acontecer.
Depois, o golpe de mestre: o contrato social. Um documento que ninguém viu, ninguém assinou, mas que supostamente legitima tudo. Reza a fábula que homens livres e selvagens, felizes no planeta Terra, se reuniram voluntariamente para estabelecer um acordo com o seu opressor. O resultado? Um monopólio do uso da força, dos tribunais, da justiça. Quem rouba julga. Quem abusa legisla. Um prodígio de circularidade lógica que até faria rir o Diabo. É como se o lobo passasse a decidir litígios entre as ovelhas e as suas próprias dentadas.

Numa fase inicial, nos tempos da monarquia absoluta, o saque era mais honesto. Sabíamos quem nos roubava. Era um homem, com nome, cara e trono. O roubo era concentrado. O povo via o ouro, os bailes, as orgias palacianas, e, de vez em quando, revoltas e revoluções despontavam. Quando Maria Antonieta sugeriu que dessem bolos ao povo, o povo respondeu com guilhotinas. A visibilidade do parasitismo era o seu maior inimigo.
Com a democracia, o golpe foi ainda mais brilhante. Agora, todos, em teoria, podemos ser ladrões. Todos podemos aceder ao pote. O roubo democratizou-se. A ilusão é que há participação. Mas o resultado é idêntico: o dinheiro vai para o mesmo lado.
A diferença? O trajecto. Na monarquia, o saque ia do povo para o rei. Na democracia, vai do povo para o “público” – esse conceito abstracto e gaseificado – e depois, pelas vias do compadrio, escorre até ao bolso dos novos duques: os administradores de empresas públicas, os assessores autárquicos, os gestores de monopólios subsidiados, os parasitas eleitos. Gente que não sabe estrelar um ovo, mas que aparece todos os meses com salários de cinco dígitos para “servir o interesse comum”.

E onde entram as causas ambientais nesta equação? Ora, onde sempre entraram as causas nobres: como camuflagem. O CO2, o alimento das plantas, tornou-se o novo Satã. Como nas indulgências da Igreja, em que se pagava para salvar a alma, agora paga-se para salvar o planeta. É o mesmo mecanismo medieval, agora com verniz ecológico. Um pretexto para confiscar mais. O gado confuso aceita tudo: imposto sobre combustíveis, imposto sobre automóveis a combustão, imposto sobre o plástico, imposto sobre energia fóssil. Tudo em nome da salvação!
Onde se gasta esse dinheiro? Nas empresas de energias renováveis, claro. Não porque estas sejam viáveis, mas porque são a nova galinha dos ovos de ouro do saque bem-pensante. Os amigos do regime aparecem como administradores dessas empresas, recebem subsídios, benefícios fiscais, contratos garantidos, financiamento verde, directamente da impressora do BCE. É o milagre da multiplicação do saque. É o assalto com arco-íris e painéis solares. Tudo com um sorriso e uma propaganda impecável. Porque, lembremos, a arte do bandido estacionário não é roubar com violência, mas sim com consentimento.
Eis, portanto, a realidade nua: vivemos num sistema de pilhagem institucionalizada, sofisticada, pacífica e contínua. O apagão de Segunda-feira foi apenas uma breve revelação. Uma janela para o que acontece quando o bandido estacionário “falha” por umas horas: o caos. Mas o caos não é a ausência do Estado. O caos é o Estado em acção, quando deixa cair a máscara de eficiência e se mostra na sua forma crua: um parasita gigantesco a sugar a vida de milhões, em nome do bem comum.

Portugal não precisa de mais Estado. Precisa de menos. Não precisa de mais democracia, precisa de mais liberdade. Não precisamos de novos líderes, precisamos de menos ladrões. O bandido estacionário não se reforma. Só desaparece quando o povo se recusar a ser vítima. Quando entende que não deve tributo ao seu assaltante, nem vassalagem ao seu algoz.
Até lá, continuará a pagar a factura do assalto…com apagão incluído. Porque, como já perceberam, até a luz que o ilumina serve para alimentar o parasita.
Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.
