ESTÁTUA DA LIBERDADE
As falhas de mercado: outra mentira do nosso tempo

Há décadas que as chamadas “falhas de mercado” são o álibi técnico e académico para justificar toda a sorte de intromissões do Estado na vida económica. A sua repetição exaustiva nos manuais universitários serve para gerar a ilusão de que o mercado livre é instável, injusto, desequilibrado e, acima de tudo, incapaz de funcionar sem o amparo das estruturas regulatórias. Uma mentira repetida até parecer ciência.
Mas, sob o escrutínio lógico, esta teoria desaba. As “falhas de mercado” não resultam de qualquer cálculo, unidade ou medida real. São artefactos normativos, formulações morais disfarçadas de análises económicas. São, na melhor das hipóteses, juízos subjectivos; na pior, engenharia social.

Diz-se que há externalidades sempre que uma acção afecta terceiros que não participaram na decisão — como a poluição de uma fábrica que atravessa a propriedade alheia, ou o perfume de um jardim que embeleza a rua. Se o efeito for negativo, alega-se que há “falha de mercado” que exige intervenção. ↓
O jornalismo independente (só) depende dos leitores.
Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.
Mas o que está aqui em causa não é uma falha de mercado: é uma questão jurídica de direitos de propriedade. Se alguém emite poluentes sobre a casa de alguém sem consentimento, isso é uma agressão, e deve ser tratado como tal. Não precisamos de um comité de peritos para avaliar “efeitos colaterais” — precisamos de tribunais que protejam a propriedade e responsabilizem os agressores.
Já as chamadas externalidades positivas — como uma linha de metro construída pelo Estado, que alegadamente valoriza os prédios adjacentes — são irrelevantes do ponto de vista económico: se os beneficiários não estão dispostos a pagar voluntariamente por esse benefício, então não há transacção, nem preço, nem escassez. Impor-lhes uma “compensação” via imposto é declarar que qualquer valor subjectivo sentido por um terceiro já constitui título legítimo sobre a carteira alheia.

Mais grave ainda: quando se alega que o benefício é menor que o prejuízo, ou vice-versa, surge a pergunta inevitável — medido em quê? Quilogramas de bem-estar? Litros de prejuízo social? É uma acrobacia sem rede: querem intervir num processo voluntário, invocando desequilíbrios que não sabem medir, sobre preferências que não conhecem, com base em valores que não partilham. Não há aqui “falha” alguma.
O segundo cavalo de batalha é o dos “bens públicos” definidos como não-excludentes e não-rivais — como o farol, a segurança ou a iluminação da rua. Como ninguém pode ser impedido de beneficiar deles, dizem, ninguém quer pagá-los voluntariamente. Logo, conclui-se que o Estado deve fornecê-los compulsivamente.
Mas este raciocínio é duplamente falacioso. Primeiro, porque parte do pressuposto de que não pagar é igual a não valorizar. Segundo, porque ignora que a possibilidade de não-exclusão é uma decisão jurídica e tecnológica, e não uma propriedade ontológica do bem.
Historicamente, faróis foram financiados por portos privados. Segurança pode ser contratada por condomínios, bairros, empresas e indivíduos. A iluminação pode ser ligada a quotas, consumo ou subscrição. A categoria de “bem público” serve apenas para legitimar a colectivização coerciva daquilo que o mercado livre não fornece — e que, justamente por isso, não deveria ser fornecido à força.

O conceito de “monopólio” transformou-se numa arma ideológica. Sempre que uma empresa domina um mercado, ou cobra um preço considerado “excessivo”, ou tem uma marca forte, é imediatamente acusada de prática monopolista.
Exige-se então a intervenção do Estado para “restaurar a concorrência”. Mas esta é uma inversão completa da lógica económica. O verdadeiro monopólio é imposto pelo Estado, pela força, através de barreiras legais à entrada. No mercado livre, qualquer posição dominante está sempre vulnerável à concorrência potencial — que, por si só, é um freio poderoso.
Quanto ao “preço abusivo”? Para quem? Medido segundo que critério? Um preço é abusivo apenas aos olhos de quem não quer pagar por ele — o que é uma preferência, não uma norma universal. O mercado não cria monopólios. O Estado é o único fabricante legítimo desse artefacto jurídico.

Alegam os economistas defensores da intervenção pública que o mercado falha quando uma das partes sabe mais do que a outra — como o vendedor de um carro usado que conhece defeitos ocultos. Mas isto é precisamente o que torna o mercado possível. Toda acção humana envolve informação assimétrica. É porque os actores valorizam os bens de modo diferente, e conhecem realidades distintas, que ocorre a troca.
Além disso, o mercado já desenvolveu os seus próprios mecanismos para lidar com esse fenómeno: reputação, garantias, certificações, avaliações por terceiros, sistemas de classificação, concorrência. Nenhuma comissão estatal pode replicar, com semelhante eficiência dinâmica, o sistema espontâneo criado por milhões de trocas livres.
Alguns académicos defendem que os indivíduos são “míopes”: preferem consumir hoje e poupar menos do que deveriam. Com base nisso, o Estado deveria corrigir a “irracionalidade” dos agentes, forçando-lhes hábitos virtuosos — seja em pensões, seguros ou saúde.

Este argumento não é económico. É moral e paternalista. A economia não tem meios para declarar que uma preferência é inferior a outra. Se alguém prefere fumar a poupar, comer a investir, isso não é irracional — é simplesmente a sua escala de valores subjectiva. O planeador que impõe a “racionalidade” por decreto está apenas a substituir os fins dos indivíduos pelos seus próprios. É a imposição da razão iluminada sobre os instintos naturais. Uma tentativa de estatizar a alma.
Afirmam os teóricos da redistribuição que o mercado, ao permitir a acumulação, gera desigualdade; que essa desigualdade é socialmente nociva, injusta e indesejável. Concluem, como sempre, que cabe ao Estado redistribuir rendimentos para restaurar o equilíbrio.
Mas a teoria do valor económico nada tem a dizer sobre a “justiça distributiva”. O mercado não distribui: remunera conforme a avaliação dos consumidores, em trocas voluntárias. A única justiça aplicável é a da propriedade legítima e da ausência de coacção. Querer redistribuir a riqueza sem redistribuir o mérito é confundir matemática com moral. A inveja não é base para a política económica. É apenas a degradação da justiça pelo ressentimento.

Outra acusação é que o mercado fornece pouco daquilo que “as pessoas deveriam consumir mais” — como livros, museus ou teatros — e demasiado daquilo que “deveriam evitar” — como álcool ou comida rápida. O remédio? Subsidiar os bens virtuosos e taxar os vícios. Esta é, de novo, uma imposição moral mascarada de ciência. Se o indivíduo não quer consumir determinado bem, isso é sinal de que não o valoriza. Obrigar a consumi-lo, ou a financiá-lo, é tratar o cidadão como uma criança estúpida — ou pior, como um animal a ser treinado.
A teoria do “bem meritório” é a mais perigosa de todas: é a base para a censura, a propaganda, a escola obrigatória, a saúde compulsória, a virtude estatal. É a estatização da consciência.
Alguns defendem que o mercado não consegue coordenar sectores complexos, como transportes, energia ou comunicações, e que, por isso, o planeamento estatal é indispensável. Mas a história revela o oposto: os sistemas mais complexos — como o abastecimento alimentar ou a Internet — são fruto da acção descentralizada.
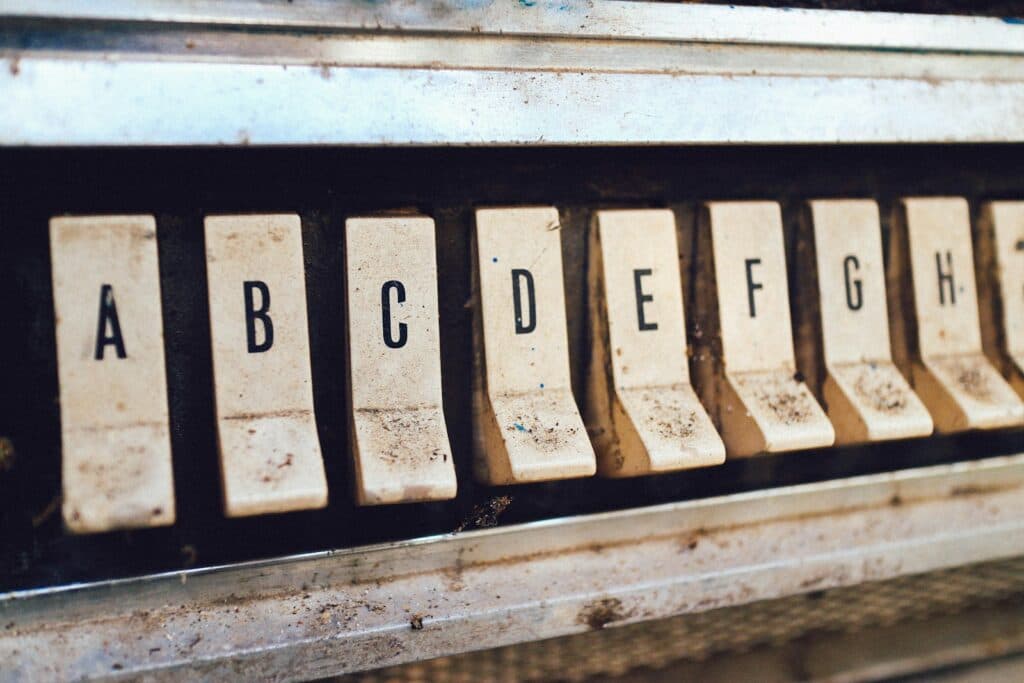
O mercado coordena não por decreto, mas por sinal: o preço e o lucro. É o preço e os lucros que transmitem informação dispersa, agregada e actualizada sobre escassez, procura, oportunidade e preferência. Os planeadores centrais, por sua vez, navegam às cegas, alheios à preferência individual e à realidade do tempo. O mercado é ordem espontânea. O Estado é caos planificado.
Argumenta-se que, por não conseguir capturar os benefícios futuros, o mercado não investe o suficiente em investigação e desenvolvimento. Como solução, propõe-se o financiamento público da inovação. Mas o mercado já resolve este desafio com contratos, capital de risco e, sobretudo, com o empreendedorismo visionário.
Cada nova empresa, cada investidor de risco, cada fundo privado está precisamente a tentar antecipar o valor futuro de uma ideia. É verdade que a inovação é incerta — mas é exactamente aí que o mercado brilha. O Estado, ao financiar a investigação e o desenvolvimento, apenas substitui o risco voluntário pelo desperdício garantido. O resultado? Barcos eléctricos sem baterias, auto-estradas sem carros, aeroportos sem passageiros ou universidades que produzem artigos académicos para o vazio. O mercado selecciona pelos lucros e vendas; o Estado, pela ligação partidária.

Por fim, o argumento mais querido aos Bancos Centrais: o mercado é instável, cíclico, sujeito a crises. Logo, é preciso intervir com “políticas monetárias”, fiscais e “anticíclicas”. Mas esta é a inversão mais perversa de todas. As crises não são falhas do mercado — são consequências directas da intervenção estatal no crédito e na moeda. São fruto da inflação monetária, dos juros artificialmente baixos, da expansão de crédito sem lastro. É o bombeiro que chega para apagar o fogo que ele próprio ateou.
As chamadas “falhas de mercado” não são realidades observáveis. Não têm unidade de medida, não têm consequência quantificável, não têm base económica. São juízos morais, argumentos ideológicos, fantasias tecnocráticas. Não denunciam falhas no mercado, mas sim a inveja dos resultados que o mercado livre gera. O que incomoda não é a ineficiência — é a liberdade. Porque onde o mercado acerta, o planeador perde poder. Isso, para o estatismo, é intolerável.
Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.